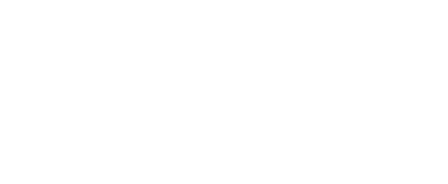Por que predomínio do 'homem branco' em testes pode atrapalhar futuro de vacinas e remédios

Não é à toa que algumas farmacêuticas estão divulgando extensivamente dados da etnia dos voluntários de ensaios clínicos para covid-19 — a falta de diversidade em testes para medicamentos é uma pauta emergente na área de saúde. ‘A maior parte dos voluntários em ensaios clínicos são brancos e homens — minorias raciais e étnicas são seriamente sub-representadas’, diz a agência federal sanitária dos EUA, a FDA
Lena/Datsiuk/Getty Images
Ao divulgar, no início do mês, resultados satisfatórios de seu projeto de vacina contra a covid-19, as farmacêuticas Pfizer e BioNTech logo destacaram em um comunicado que, dos mais de 43 mil participantes dos testes de fase 3 no mundo, “42% tinham origem étnica diversa”.
À frente de outra candidata a vacina, a empresa Moderna também tem divulgado dados sobre o perfil dos voluntários que estão participando dos seus testes — na fase 3, realizada nos Estados Unidos com 30 mil pessoas, 63% eram brancos, 20% latinos, 10% negros, 4% asiáticos, e 3% “outros”. A empresa diz em seu site ter como objetivo que os participantes “sejam representativos das comunidades sob maior risco da covid-19 e de nossa sociedade diversa”.
Segundo uma reportagem com informações exclusivas publicada em outubro pela agência Reuters, a Moderna chegou a desacelerar seu cronograma de testes ao constatar que a maior parte dos voluntários recrutados por empresas terceirizadas eram brancos, o que precisou ser revisado.
O esforço das empresas em comunicar a diversidade entre voluntários de testes responde a um debate que não é de hoje, mas que foi impulsionado pela pandemia de coronavírus.
“Uma vez que os afro-americanos e as comunidades de latinos nos Estados Unidos têm maior taxa de infecção, hospitalização e mortalidade, acreditamos que estes grupos deveriam ter um acesso mais igualitário a ensaios clínicos (testes envolvendo humanos) referentes à covid-19. A maior inclusão também deve acontecer em estudos multinacionais”, escreveu por e-mail à BBC News Brasil Daniel Chastain, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade da Geórgia, nos EUA.
Com mais cinco pesquisadores, Chastain publicou em agosto um artigo sobre isso no periódico científico mais influente do mundo na área médica, o New England Journal of Medicine. No texto, os autores defendem maior representatividade por motivos éticos, como o acesso de populações “minoritárias” a tratamentos potencialmente benéficos; e também por motivos científicos, pois um produto testado em pessoas com perfil limitado não necessariamente funcionará bem em outras populações — seja por fatores genéticos, sociais, entre outros.
“A diversidade é necessária para garantir a generalização (dos resultados)”, completou Chastain.
O artigo que publicou com colegas mirou especificamente o remdesivir, medicamento antiviral fabricado pela farmacêutica Gilead e considerado pelo governo americano um tratamento oficial para a covid-19 — apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) divergir da orientação, defendendo que o remédio não tem eficácia comprovada contra a nova doença.
Os autores criticaram a falta de dados raciais em estudos iniciais com remdesivir, e também o que seria uma baixa representatividade de minorias fortemente afetadas pela covid-19 nos testes.
Pesquisadores envolvidos nos estudos com o remdesivir publicaram então uma réplica garantindo que houve uma representatividade satisfatória, dando início a uma sequência de cartas, gráficos e diferentes dados defendidos por cada um dos lados.
Fato é que, nos Estados Unidos, a agência sanitária federal Food and Drug Administration (FDA) incorporou a pauta há algum tempo. Anualmente, ela registra as principais características demográficas de voluntários envolvidos em ensaios clínicos de novos medicamentos registrados no país — em 2019, 72% dos participantes eram brancos, 9% negros e 18% hispânica.
O percentual de voluntários negros avançou na comparação com 2015, data mais antiga para a qual o FDA tem dados disponibilizados em seu site. Naquele ano, 79% dos participantes de testes eram brancos e 5% afro-americanos (não há dados específicos para latinos).
Na população americana, segundo estimativas do Censo nacional para 2019, 76% são apenas brancos, 13% apenas negros e 18,5% hispânicos ou latinos (o “apenas” se opõe à opção de declaração em duas ou mais “raças”, o que é possível no Censo; hispânicos e latinos não são considerados uma raça em si, por isso têm interseção com outras categorias).
Os EUA têm também uma lei federal que obriga a inclusão de minorias em pesquisas financiadas pelo governo por meio dos National Institutes of Health (NIH), apesar de o texto não prever em qual percentual ou quantidade. O NIH também obriga que ensaios clínicos de fase 3 divulguem informações sobre gênero e raça dos participantes.
No Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não há normas que determinem o registro ou participação de diferentes raças em ensaios clínicos.
A assessoria do órgão explicou à BBC News Brasil que medicamentos podem ser registrados no país com dados de ensaios clínicos feitos no exterior, mas “as empresas deverão demonstrar que esses dados podem ser extrapolados para a população brasileira”.
“Se houver indícios de que fatores étnicos possam alterar a eficácia ou a segurança de um medicamento etnicamente ‘sensível’, (…) a Anvisa pode solicitar estudos adicionais em uma população que represente a população local (Brasil)”, escreveu a agência em nota.
“Isso ocorre especialmente para estudos conduzidos somente com uma população específica.”
Pesquisadores entrevistados pela reportagem afirmaram desconhecer dados e até estudos acadêmicos sobre o perfil racial de voluntários em testes realizados no Brasil.
Por experiência, entretanto, a infectologista Anita Campos, atualmente diretora médica na Sarepta Farmacêutica, afirma que “com certeza” o Brasil também tem maior participação de brancos e pessoas de classes mais privilegiadas nos testes — geralmente convocados através das redes sociais, divulgação na imprensa, do contato com associações de pacientes ou recrutamento no ambiente hospitalar.
Considerando tratamentos em estudo para a covid-19, a reportagem procurou representantes dos testes com vacinas que estão trabalhando com voluntários no Brasil e em fase adiantada: a CoronaVac (desenvolvida pela Sinovac) e a AZD1222 (Universidade de Oxford e AstraZeneca).
A Universidade de Oxford respondeu que não poderia compartilhar dados sobre a etnia dos voluntários. Representando a AZD1222 no Brasil, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) acrescentou que foram recrutados profissionais de saúde, outros trabalhadores atuando em ambiente hospitalar (como seguranças e faxineiros) e idosos aposentados em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Santa Maria e Porto Alegre.
“A vacina de Oxford também está sendo aplicada em voluntários nos Estados Unidos e na África do Sul, sem contar Reino Unido. A diversidade na localidade e o grande número de voluntários recrutados — cerca de 50 mil — permite naturalmente que seja esse um grupo de grande variedade de pessoas”, escreveu a assessoria da Unifesp.
A Sinovac e seu parceiro no Brasil, o Instituto Butantan, não responderam aos pedidos de informação da reportagem.
Desigualdades refletidas nos ensaios clínicos
Diferenças no acesso à informação e até ao transporte podem afetar diversidade em ensaios clínicos
Ada da Silva/Getty Images
No artigo publicado no “New England Journal of Medicine”, a equipe de Daniel Chastain enumerou possíveis motivos para a pouca diversidade nos ensaios clínicos: “Pode ter a ver com uma antiga desconfiança dos médicos em relação às comunidades minoritárias, mas o problema pode ser composto também pelo custo (em particular, custos ‘escondidos’ com locomoção, alimentação e acomodação), pouco conhecimento para assuntos de saúde, pouca informação, limitações de idioma, acessibilidade, e vieses implícitos contra minorias.”
Outra possível explicação apontada é a falta de diversidade entre os próprios cientistas, o que pode influenciar no recrutamento de voluntários.
Os pesquisadores levam em conta, portanto, que a raça está associada a fatores socioeconômicos. Isso é demonstrado por vários indicadores de escolaridade, saúde, emprego, representação política e cultural em que negros, por exemplo, tendem a ter menos oportunidades do que brancos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, conforme mostrou a BBC News Brasil em junho.
Para tentar reverter a falta de representatividade nos testes, o FDA apostou na divulgação, lançando em 2017 uma campanha intitulada Latinos Can Make a Difference in Clinical Trials (“Latinos podem fazer a diferença em ensaios clínicos”), que convida com vídeos e textos de orientação em espanhol pessoas de origem hispânica a participarem de mais testes.
“A maior parte dos voluntários em ensaios clínicos são brancos e homens — minorias raciais e étnicas são seriamente subrepresentadas”, diz o site do FDA.
Entretanto, apesar da menção a um histórico predomínio dos homens, dados da agência sobre medicamentos aprovados em 2019 mostram que 72% das voluntárias dos testes eram mulheres. Em 2015, o percentual foi de 40%.
Um texto em espanhol da campanha Latinos Can Make a Difference in Clinical Trials defende que “participar de um estudo clínico pode ser uma boa opção para você se: você e seu médico acreditam que os tratamentos atuais não são opções satisfatórias e um estudo clínico oferece alternativas adicionais; se você quer ajudar a assegurar que os benefícios e riscos dos produtos médicos sejam estudados em pacientes de grupos diversos”.
Como lembra esse material de orientação do FDA, ensaios clínicos envolvem possíveis benefícios, mas também malefícios. Assim, incluir mais perfis de voluntários não poderia também deixar estas pessoas mais expostas a riscos?
“Evidente que existem riscos, mas em geral os participantes são acompanhados de forma mais frequente, há um registro rotineiro de efeitos adversos e muitas pessoas (profissionais) observando. A chance de evolução (em um quadro de saúde) costuma ser maior na pesquisa clínica do que na prática clínica”, responde o médico Otavio Berwanger, diretor do centro de pesquisa clínica do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, setor que coordena e executa ensaios, muitas vezes multinacionais, patrocinados pela indústria farmacêutica.
No centro, Berwanger diz que o esforço para aumentar a diversidade foca principalmente na divulgação de testes a serem realizados, com chamadas nas redes sociais e na imprensa.
“Hoje sabemos que quanto mais representativos, melhores os estudos”, completa o médico, especialista em pesquisa clínica pela Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Do DNA ao social
Berwanger explica que, enquanto em algumas doenças, como as cardiovasculares, o comportamento é em geral semelhante independentemente da origem da pessoa, outras têm manifestações diferentes a depender da etnia, gênero, entre outras características.
Isso pode acontecer por fatores internos do organismo, como características genéticas e metabólicas de determinadas populações; ou externos, como hábitos alimentares e estilo de vida mais comuns entre algumas comunidades — ou ainda uma combinação de tudo isso.
Uma revisão de dados de todos os medicamentos aprovados pelo FDA nos Estados Unidos entre 2008 e 2013 mostrou que aproximadamente um quinto dos novos remédios apresentou alguma diferença na exposição ou resposta ao tratamento entre diferentes grupos raciais.
Por exemplo, vários estudos já mostraram que diferenças na fisiologia da pele podem afetar a resposta a remédios e pomadas dermatológicas. Em outra área da medicina, brancos e negros já demonstraram uma resposta metabólica mais fraca a alguns antidepressivos e antipsicóticos, na comparação com asiáticos.
Em 2005, o FDA aprovou o primeiro remédio direcionado a um grupo racial, o BiDil, para tratamento de insuficiência cardíaca. A empresa que patrocinou o estudo fez inicialmente dois ensaios clínicos com pessoas de diversas origens, cujos resultados não mostraram benefícios em geral, mas sugeriram melhores efeitos para pessoas negras. Então, a empresa fez testes com 1.050 pessoas que se identificaram como negras, mostrando a segurança e eficácia do medicamento, finalmente aprovado.
De acordo com a Anvisa, no Brasil, “normalmente há alertas ou recomendações descritas no texto da bula” quando há diferenças na “resposta clínica ou susceptibilidade à toxicidade a fármacos, relacionada às diferenças étnico-raciais”.
Segundo entrevistados pela BBC News Brasil, a raça dos voluntários de estudos clínicos costuma ser registrada a partir da autodeclaração.
Entretanto, nem essa alternativa para classificar a origem ou a cor de uma pessoa é simples, aponta o antropólogo Ricardo Ventura, que estuda questões étnicas relacionadas à demografia, ciência e saúde.
“Desde o primeiro Censo americano, possivelmente nenhuma edição subsequente teve as mesmas categorias raciais, pois elas mudam muito com o tempo. O que é ‘latino’? Que categorias raciais são essas? Não são dados simples. O debate sobre a inclusão (em estudos médicos) é muito importante, mas estas classificações precisam ser bem trabalhadas, pensadas”, diz Ventura, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
“É preciso problematizar a ideia de que existem diferenças entre categorias, raças, do ponto de vista biológico. Obviamente a questão racial envolve componentes biológicos, mas também é uma construção social”, completa o pesquisador, graduado em ciências biológicas e mestre e doutor em antropologia.
Ele, que trabalha principalmente com povos indígenas, destaca que esta população tem mostrado maior mortalidade e letalidade pela covid-19 do que a população brasileira em geral — e, inclusive, defende que indígenas sejam mais incluídos em ensaios clínicos, o que a reportagem não conseguiu confirmar com dados se está acontecendo ou não.
Mas Ventura critica que, na produção científica sobre o coronavírus, está sendo reproduzida uma abordagem “perigosa” já observada anteriormente.
“Muitos estudos já relacionaram a tuberculose à população ameríndia como se estivesse ligada à genética, à ancestralidade. Mas eles deixaram de considerar outras variáveis relacionadas à doença — como a quantidade de pessoas morando no domicílio, a presença ou não de janelas nas casas, problemas no acesso aos serviços de saúde.”
“Tem emergido em trabalhos de covid-19 a defesa de que os povos indígenas teriam uma fragilidade imunológica por serem populações geneticamente mais homogêneas. Essa vulnerabilidade é um debate antigo, das décadas de 50 e 60, e que já apareceu em outras epidemias. Não tendo estudos consistentes demonstrando isso, se tornou um mantra.”
“É um argumento que, se não olhado criticamente, pode ser muito perigoso, porque olha para a saúde e a doença como estando basicamente no domínio da biologia. Vira algo determinista”, aponta, acrescentando que, na transmissão do coronavírus, arranjos sociais dos indígenas, como aqueles vivendo em terras indígenas, também têm um papel — por exemplo com maior interação e contato dentro da moradia.
Desconforto no ambiente médico: ‘Preconceito do guarda que está na porta ao recepcionista’
Falando especificamente dos ensaios clínicos, Ricardo Ventura reforça como a falta de confiança que certas populações sentem ao acessar serviços de saúde pode levar a uma baixa representatividade.
Há experiências traumáticas para algumas minorias envolvidas na pesquisa médica.
O antropólogo menciona um caso famoso e emblemático dos Estados Unidos, o estudo de Tuskegee, realizado entre 1932 e 1972.
Por 40 anos, pesquisadores da Universidade de Tuskegee, no Alabama, acompanharam o desenvolvimento da sífilis em centenas de homens negros e pobres — que não só não sabiam ter a doença, como tampouco receberam tratamento, apesar de o antibiótico penicilina já estar disponível na época. Quase 65 anos depois, o então presidente Bill Clinton pediu desculpas em nome do governo americano pelo episódio.
A falta de confiança também foi um desafio em estudos no Brasil com o PrEP, uma prevenção medicamentosa para o HIV.
Quem conta é a infectologista Anita Campos, que trabalhou no desenvolvimento do truvada (um dos componentes do PrEP) na farmacêutica Gilead.
Ela lembra que o Brasil, o primeiro país no mundo a ter o PrEP como política de saúde pública, pediu antes um projeto demonstrativo — aquele citado pela Anvisa, usado para provar que um remédio do exterior funciona com a população brasileira — à Fiocruz, começando em 2014. O recrutamento pediu como voluntários homens que fazem sexo com homens (HSH) e mulheres transexuais.
Mas apareceram muito mais voluntários com o primeiro perfil.
“Justamente por terem menos acesso à informação e também pelo preconceito no acesso à saúde, as mulheres trans foram menos incluídas (inicialmente). Existe um grande receio delas em procurarem os serviços de saúde, pois elas sentem preconceito desde o guarda que está na porta ao recepcionista.”
Uma solução encontrada pela Fiocruz foi buscar essas mulheres em seus locais de trabalho e moradia, e também contratar pessoas trans como agentes de saúde, facilitando o contato e a confiança no processo.
“Em geral, em ensaios clínicos da área de HIV, uma das grandes críticas na hora de registrar uma droga é que ela é pouco representativa de mulheres e negros. Nesses estudos, a representação dessas populações é sempre muito baixa.”
“Mas vejo um movimento na indústria de maior discussão e preocupação com a diversidade nos ensaios”, completa.
VÍDEOS: novidades sobre vacinas contra Covid-19